Centro de Informação
Memória do Congresso 86 da Ordem dos Engenheiros - I
 Cumpre-se este ano o 20.º aniversário da adesão de Portugal à CEE. Estávamos em 23 de Agosto de 1976, quando o então Primeiro-Ministro, Mário Soares, após uma ronda pelas capitais dos 9, fez entregar em Bruxelas o pedido português que selava o retorno de Portugal à sua velha casa europeia.
Cumpre-se este ano o 20.º aniversário da adesão de Portugal à CEE. Estávamos em 23 de Agosto de 1976, quando o então Primeiro-Ministro, Mário Soares, após uma ronda pelas capitais dos 9, fez entregar em Bruxelas o pedido português que selava o retorno de Portugal à sua velha casa europeia.Dez anos depois, em 1 de Janeiro de 1986, o País pôde, finalmente, viver o seu primeiro dia como membro das Comunidades. São essas duas décadas, que actualmente se comemoram, que constituem razão e ponto de partida para recordar a forma como a Ordem e os Engenheiros portugueses reagiram e, procurando encontrar o seu espaço, se integraram nessa nova realidade.
À luz das circunstâncias, atenta à evolução dos acontecimentos e à importância do acontecimento, a Ordem agiu desde logo, escolhendo a temática para mote do Congresso 86: A Engenharia Portuguesa e a Integração na CEE, deixando explícito o seu interesse em participar activamente nas discussões sobre o desenvolvimento tecnológico nacional, ajudando a encontrar pistas para o relançamento da nossa actividade produtiva1.
Os desafios que se colocavam e as dificuldades que se esperavam eram de monta, compreendendo os engenheiros da Ordem que se impunha fazer um enorme esforço de adaptação e de mudança de mentalidades, a fim de permitir a inserção da nossa sociedade numa Europa comunitária em permanente mutação e já hoje confrontada com a forte competição que lhe é movida pelos Estados Unidos da América e o Japão. Assim se justificava a escolha do tema – já que a modernização que se pretende atingir terá necessariamente de passar pela capacidade imaginativa ou de investigação, demonstradas pela engenharia portuguesa2.
Antes de nos referirmos ao teor do Congresso e aos desafios que então se entendia colocarem-se à engenharia portuguesa, devemos ter em conta que o processo vem de trás; a integração portuguesa na UE tem um passado que, em termos de história contemporânea, se inicia com os processos de cooperação europeia desencadeados no pós II Guerra Mundial, designadamente através do Plano Marshall, cuja concretização, a nível europeu, foi feita através da OECE. A partir daí desenvolveu-se uma história intensa, de mais de meio século, da participação de Portugal no processo de unificação da Europa.
Portugal e a construção europeia: do Plano Marshall à CEE
Recuemos, portanto, no tempo, para recordar o discurso que o Secretário de Estado dos EUA, George Marshall, proferiu em 1947 na Universidade de Harvard, anunciando ao Mundo a intenção do seu Governo apoiar todos os países europeus depauperados pela Segunda Guerra Mundial na sua obra de recuperação económica.
Foi a partir desse momento de capital importância que se concretizou um primeiro passo no sentido da cooperação económica europeia e se inaugurou a presença de Portugal no processo europeu, arrastando, desde logo e apesar do contexto de cepticismo e resistência, um projecto de crescente internacionalização da economia portuguesa, marcando um caminho que se prolonga até aos dias de hoje e que já não se circunscreve apenas à sua realidade económica mas à sua vida política e social.
Contrariamente ao que durante anos se procurou divulgar, Portugal participou activa e empenhadamente, desde a primeira hora, nas diversas actividades destinadas à sua concretização: esteve presente na Conferência de Cooperação Económica Europeia, realizada em Julho de 1947 em Paris, onde, em resposta às sugestões do general Marshall, se fez o balanço das necessidades económicas comuns e se elaborou um programa de recuperação económica dos países europeus; aceitou os vários mecanismos instituídos no quadro do European Recovery Program (“nome oficial” do Plano Marshall); foi membro fundador da Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE, mais tarde OCDE); e beneficiou do auxílio financeiro norte-americano, apesar de inicialmente o ter rejeitado.
Num primeiro momento, o Governo português rejeitou a possibilidade de aceitar auxílio financeiro americano. A decisão da rejeição correspondia a uma forma de compromisso entre a vontade de preservar os grandes princípios pelos quais se regia a diplomacia de Oliveira Salazar e estar presente em Paris. O Governo português queria manter o País economicamente autónomo, mas dependia, em assinalável proporção, dos fornecimentos do exterior para “viver” e para se autonomizar. Por isso, embora a abominação das consequências económicas da cooperação fosse real, a aproximação aos seus principais parceiros comerciais impunha-se-lhe de forma inexorável.
Decorreu apenas um ano para que o Governo português, confrontado com o agravamento da situação económica e financeira do País, se visse obrigado a alterar a decisão inicial de dispensar do auxílio financeiro Marshall. Na verdade, ao longo dos primeiros meses de 1948, assistiu-se, pela primeira vez desde há alguns anos, a uma deterioração acentuada da situação financeira e cambial nacional. Tendo evitado, até ao limite da sua capacidade negocial, recorrer ao financiamento norteamericano, a 20 de Julho de 1948, Oliveira Salazar, colocou, por fim, a hipótese de recorrer ao auxílio Marshall. A impotência das autoridades portuguesas face à implacabilidade da crise financeira e comercial que alastrava no País não oferecia mais alternativas.
Perante o dilema: o auxílio americano ou a ruptura monetária e financeira, o Presidente do Conselho usou da flexibilidade necessária para conduzir uma das mais significativas alterações da política externa portuguesa levada a cabo durante a vigência do Estado Novo. Às razões de ordem política e ideológica, e não obstante o cepticismo em relação às soluções de cooperação económica internacionalmente encontradas, sobrepuseram-se, e prevaleceram, afinal factores pragmáticos de ordem económica e financeira.

O envolvimento de Portugal no Plano Marshall teve uma importância relevante na estruturação de um processo controlado do desenvolvimento económico. Na prática, o Plano Marshall constituiu a razão e a oportunidade para a formulação de um programa económico para o pós-guerra, condensando o essencial das perspectivas do Governo em matéria de política económica e orientando a sua actuação até à entrada em execução do I Plano de Fomento (1953-1958). O envolvimento de Portugal no Plano Marshall contribuiu para a adesão a novas formas de encarar a política económica através do planeamento económico materializado nos sucessivos planos de fomento que passaram a orientar a actividade económica portuguesa até ao fim do Estado Novo.
No seu conjunto, a participação de Portugal no Plano Marshall propiciou-lhe uma assistência financeira que rondou os 90 milhões de dólares (mais de dois milhões e meio de contos), interessando uma parte significativa dos agentes económicos do País, incluindo o próprio Estado. A verba não é significativa, especialmente se comparada com os outros países beneficiários.
Todavia, foi conjunturalmente importante no que respeita à contenção e superação da crise multifacetada que na altura afectava a economia e a sociedade portuguesas; contribuiu para eliminar o défice da nossa balança de pagamentos e facilitou o abastecimento de bens essenciais necessários para debelar a crise e para lhe minorar os efeitos económicos e sociais; da mesma forma, viabilizou a aquisição de equipamentos para alguns projectos que dependiam desse fornecimento para o início ou a prossecução da sua actividade, participando no investimento em actividades económicas em parte integradas no recém aprovado programa de industrialização e para o prosseguimento da construção de algumas infra-estruturas, designadamente barragens produtoras de energia eléctrica.
Deve também salientar-se a importância dos estudos dos técnicos estrangeiros, sobretudo americanos, sobre aspectos precisos da economia portuguesa. A participação de Portugal nos diversos programas desenvolvidos no quadro do Plano Marshall proporcionou o desenvolvimento de um caldo de cultura que alargou a sua influência a uma parte da elite portuguesa, permitiu intensificar contactos e conhecer novas realidades internacionais, da mesma forma que abriu inusitadamente o País à presença de especialistas estrangeiros, contribuindo para um processo de crescente abertura do Estado Novo que dificilmente podia regredir.
O facto de se ver integrado nas novas instituições internacionais a que o Plano Marshall deu origem (além da OECE, a União Europeia de Pagamentos), trouxe-lhe vantagens de diversa ordem e grandeza, passando pela formação de uma elite técnica, um melhor conhecimento dos meandros do comércio internacional e a participação activa no mesmo ou a aprendizagem para lidar com os novos instrumentos do sistema monetário e financeiro internacional. Portugal garantiu dessa forma a sua integração no sistema de comércio e de pagamentos internacional e, sobretudo, a sua presença activa nos movimentos nascentes de cooperação económica europeia.
Até ao final do Estado Novo, a “aproximação europeia”, em boa parte indesejada, obrigará a um esforço constante para resolver as contradições existentes entre a realidade e as convicções e os princípios políticos pelos quais se batia e que em vão desejava fazer perdurar. Procurava-se, no fundo, conciliar uma opção europeia ou atlântica, da qual jamais quer ficar “de fora”, e uma opção “africanista”, de unidade com as colónias, da qual não quer, nem porventura pode, abrir mão.
Entretanto, a OECE procurava por todas as vias melhorar o sistema de pagamentos entre os países membros. Após algumas tentativas frustradas, já no quadro do multilateralismo resultante, entre outros, dos acordos de Bretton Woods, optou-se por uma solução mais ambiciosa que veio a dar origem à União Europeia de Pagamentos (UEP), em 1950. Portugal esteve na primeira linha dos aderentes ao novo sistema, tendo sabido aproveitar as vantagens propiciadas pela nova instituição. Mais tarde, em 1958, quando a UEP foi liquidada, o País subscreveu o Acordo Monetário Europeu, prolongamento actualizado daquele.
Em breve, o andar dos tempos acabaria por conduzir Portugal à resignação face à constituição de uma unidade de estrutura económica da Europa. Vivia-se, então, um ciclo de crescimento e de modernização que se faz sentir à escala internacional. Portugal partilhou desse momento, beneficiando das dinâmicas induzidas do exterior e das alterações que entretanto seriam introduzidas no quadro nacional a partir das transformações operadas ao nível do tecido produtivo nacional e das modificações “modernizantes” que a política económica procurava enquadrar; ciclo de crescimento, portanto, que incorporou até mudanças estruturais, não obstante os poderosos factores sociais e políticos de resistência que, subsistindo, acabaram por condicionar negativamente o ritmo e o alcance das transformações modernizadoras. O final dos anos 50, e especialmente os inícios dos 60, colocariam novos desafios a Portugal no que tocava ao seu envolvimento nos movimentos de cooperação económica europeia, implicando importantes decisões e definindo estratégias consequentes.
Foquemos a nossa atenção em alguns aspectos que têm a ver com os dois acontecimentos mais importantes para o caso português: a EFTA e o processo de abertura de negociações com a CEE. É unanimemente aceite, quer por aqueles que estiveram directamente envolvidos nos acontecimentos, quer por estudiosos que se têm dedicado a este assunto, que foi por um golpe de sorte, recorrendo à expressão do embaixador Rui Teixeira Guerra, que Portugal conseguiu juntar-se aos países signatários da Convenção de Estocolmo, sendo inequívoca a forma como as autoridades portuguesas se bateram pela integração na Associação Europeia de Comércio Livre, argumentando contra a perspectiva de “ficar de fora”.

A adesão à EFTA era ainda mais apetecida, porquanto a configuração que deveria assumir esta zona de comércio livre era consentânea com a política e com os princípios que orientavam a postura de Portugal relativamente à cooperação com o exterior.
Inserindo-se na EFTA, Portugal evitava ficar arredado dos movimentos de integração europeia; os compromissos que assumia eram de natureza estritamente económica e comercial; não se levantavam (como na CEE) questões de regime ou de sistema político e muito menos problemas derivados da existência das colónias africanas, dada a completa autonomia aduaneira nas relações com terceiros países.
Além disso, o relativo subdesenvolvimento industrial português face às outras potências integrantes foi salvaguardado através da aceitação do “famoso” Anexo G, através do qual se permitia a Portugal um muito mais lento desarmamento pautal (que no nosso caso se podia prolongar por 20 anos - o dobro do que era concedido aos outros membros) e, sobretudo, autorizava expressamente o nosso País a erguer barreiras alfandegárias quando estivesse em causa a protecção de novas indústrias.
Em termos objectivos, a integração na EFTA constituiu uma consequência natural do facto de ter estado presente desde a primeira hora na OECE. O facto de comercialmente dependermos cada vez mais da Europa não suscitava, tão pouco, grandes reservas, tanto mais que o projecto ultramarino, mesmo na nova arquitectura que entretanto lhe seria dada pela institucionalização do Espaço Económico Português, derrapava em cada momento, ficando permanentemente à beira de soçobrar à medida que os problemas políticos e económicos iam ganhando dimensões inesperadas.
Balanço feito, a participação de Portugal na EFTA é avaliada, praticamente a todos os níveis, de forma muito satisfatória, considerando-a mesmo um dos mais poderosos factores do rápido crescimento e modernização da economia portuguesa durante esse período.
Tudo parecia “caminhar de feição” para as autoridades portuguesas quando, em 9 de Agosto de 1961, a Grã-Bretanha reclamou a sua integração no Mercado Comum, no que foi seguida pelos países escandinavos. Neste ponto surgiram algumas hesitações. Os riscos cuidadosamente medidos eram de monta: no horizonte surgia mais uma vez o espectro do isolamento no contexto europeu. Relutantemente, mas dando provas da flexibilidade necessária, o Presidente do Conselho, em 18 de Maio de 1962, solicitou a abertura de negociações entre Portugal e a Comunidade com o fim de definir os termos da colaboração que o Governo português queria ver estabelecida com os países do Mercado Comum.
Sem expor pretensões ou reservas, Oliveira Salazar adoptava a fórmula vaga que na altura lhe permitia evitar escolhos maiores. Até porque existia a Grã-Bretanha e a Commonwhealth, cujos problemas de integração na CEE haviam de, forçosamente, lançar pistas de soluções aplicáveis ao Ultramar português.
Providencialmente, para os dirigentes portugueses, o Presidente De Gaulle, na sua célebre declaração de 13 de Janeiro de 1963, pôs uma pedra sobre o assunto, recusando liminarmente a integração do Reino Unido na Comunidade: fazendo, naturalmente, suspender os preparativos para as negociações com os restantes membros da EFTA.
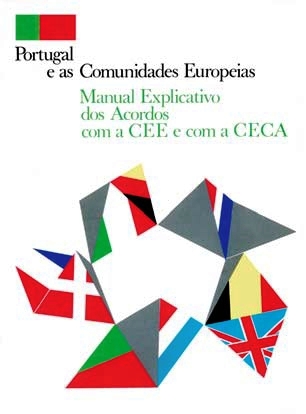
O “problema” só voltou a pôr-se quase uma década depois. Já eram outros os actores quando, em 1970, a candidatura britânica de adesão às Comunidades Europeias foi finalmente aceite. Portugal compreendeu novamente que não podia ficar à margem, partindo para as negociações efectivamente iniciadas em Dezembro de 1971, e que haveriam de conduzir à assinatura do Acordo de Comércio Livre Portugal - CEE e do Acordo Portugal - CECA sobre o comércio dos produtos siderúrgicos em 22 de Julho de 1972.
Decisão que, tendo a ver fundamentalmente com a avaliação dos condicionalismos de ordem comercial, se defrontou com posições contrárias protagonizadas por importantes sectores da elite política do regime que argumentavam com os perigos do “contágio político” e com o risco de abrandar o “empenhamento ultramarino”.
Em boa verdade, o Governo Português, agora liderado por Marcello Caetano, tinha um posicionamento mais positivo em relação à “via europeia”, empenhando-se numa aposta mais clara na problemática europeia, no quadro de uma ligação real e institucional, mesmo modesta, à CEE.
Entretanto, complicava-se a situação política portuguesa. O Governo, minado por dissenções internas, não conseguia encontrar soluções e, muito menos, pô-las em prática em relação a alguns dos mais gritantes problemas políticos e sociais: a guerra colonial sem solução; a economia em derrapagem; a inflação que chegou a atingir os dois dígitos; a decisão que o Governo considerou tomar perante as dificuldades ligadas à paridade do escudo de suspender temporariamente o mercado de câmbios; a agitação estudantil; e, por fim, o “movimento dos capitães”, pondo termo a um regime que durara mais de 40 anos.
A Revolução de 25 de Abril de 1974 veio, por fim, derrubar o último governo do Estado Novo. A vitória coube à democracia e ao pluralismo partidário: em 25 de Abril de 1975 realizaram-se as primeiras eleições livres dos últimos 50 anos, para uma Assembleia Constituinte; a 2 de Abril de 1976 foi aprovada a nova Constituição e a 25 de Abril de 1976 realizaram-se as primeiras eleições legislativas para a Assembleia da República; em Junho, as eleições para a Presidência da República, e em Julho seguinte, o I Governo Constitucional tomou posse.
Para os novos responsáveis políticos, era naturalmente fundamental reanimar e modernizar a economia portuguesa, dotando-a de estruturas e imprimindo-lhe um dinamismo que permitissem a sua evolução no sentido do modelo adoptado pelas economias das democracias ocidentais. À integração de Portugal nas Comunidades Europeias colocou-se, então, uma meta fixada pelo Governo. Sucederam-se vários contactos, e o Presidente do Conselho de Ministros da CEE visitou Portugal; por fim, em 29 de Novembro de 1976, o Governo português foi autorizado pela Assembleia da República a solicitar a adesão de Portugal às Comunidades Europeias.
Por fim, Portugal solicitou formalmente a sua integração na CEE. O processo foi moroso e complexo. Finalmente, na sequência da Cimeira de Fontainebleau, o Governo português foi informado de que Portugal passaria a fazer parte da Europa Comunitária a partir de 1 de Janeiro de 1986.
Os dossiers da adesão de Portugal às Comunidades foram sendo gradualmente encerrados e as relações institucionais das autoridades portuguesas com as comunitárias foram-se estreitando. Dirigentes e funcionários da CEE visitam cada vez mais frequentemente Portugal, até que, é assinado o “constat d’accord” que pôs formalmente termo às negociações e ratificou a data da adesão portuguesa, tal como ficara previsto na Cimeira de Fontainebleau.
A 12 de Junho de 1986 teve lugar a cerimónia solene da assinatura do Tratado de Adesão à CEE no ambiente grandioso do claustro do Mosteiro dos Jerónimos.
 | 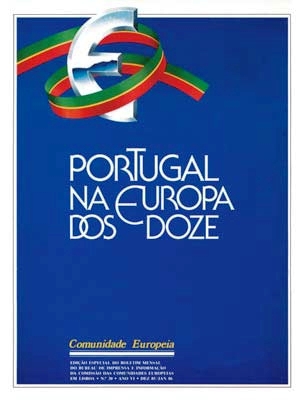 |
O Congresso 86, cuja estrutura, só por si, diz bem do posicionamento nacional que é o da engenharia portuguesa, assumiu um relevo particular - pela primeira vez, os engenheiros debateram e analisaram em profundidade os problemas decorrentes da nossa integração europeia, formalmente consumada em Janeiro deste ano3.
No próximo artigo retomaremos a temática desse Congresso.
Bibliografia
- Adesão de Portugal às Comunidades Europeias. História e Documentos, Introdução de José Medeiros Ferreira, Parlamento Europeu-Assembleia da República-Comissão Europeia, Portugal, 2001.
- Boletim da Ordem dos Engenheiros.
- GUERRA, Ruy Teixeira, FREIRE, António de Siqueira e MAGALHÃES, José Calvet de, Os Movimentos de Cooperação e Integração Europeia no Pós-Guerra e a Participação de Portugal nesses Movimentos, Departamento de Integração Europeia, Instituto Nacional de Administração,Lisboa, 1981.
- Ingenium. Revista da Ordem dos Engenheiros.
- LOPES, José da Silva, A Economia Portuguesa desde 1960,Gradiva, Lisboa, 1996.
- PINTO, António Costa e TEIXEIRA, Nuno Severiano (Ed.),Europa do Sul e a Construção da União Europeia, 1945-2000, Imprensa de Ciências Sociais, ICS, Lisboa, 2005.
- Portugal e a Construção Europeia, Almedina, Coimbra, 2002.
- ROLLO, Maria Fernanda, “Portugal, a Europa e o Mundo”, in 30 Anos de Constituição, Assembleia da República, Lisboa,2006, p. 371-374.
- ROLLO, Maria Fernanda, “Salazar e a Construção Europeia”,in Portugal e a Unificação Europeia, Penélope, n.º 18, Edições Cosmos, 1998, pp. 51-76.
- ROLLO, Maria Fernanda, Portugal e o Plano Marshall. Da rejeição à solicitação da ajuda financeira norte-americana (1947-1952), Editorial Estampa, Lisboa, 1994.
1 “A Ordem ao serviço do País” in Ingenium. Revista da Ordem dos Engenheiros, n.º5, Dezembro de 1986, p. 7.
2 “Relatório e Contas do Conselho Directivo Nacional 1986. Orçamento para 1987 Plano de Actividades Parecer do Conselho Fiscal Nacional “ in Ingenium. Revista da Ordem dos Engenheiros, n.º 9, Abril de 1986, p. 3.
3 “A Ordem ao serviço do País”, in Ingenium. Revista da Ordem dos Engenheiros, n.º 5, Dezembro de 1986, p.6.
Maria Fernanda Rollo
Professora do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Publicado na Revista Ingenium N.º 95 - Setembro/Outubro de 2006

















